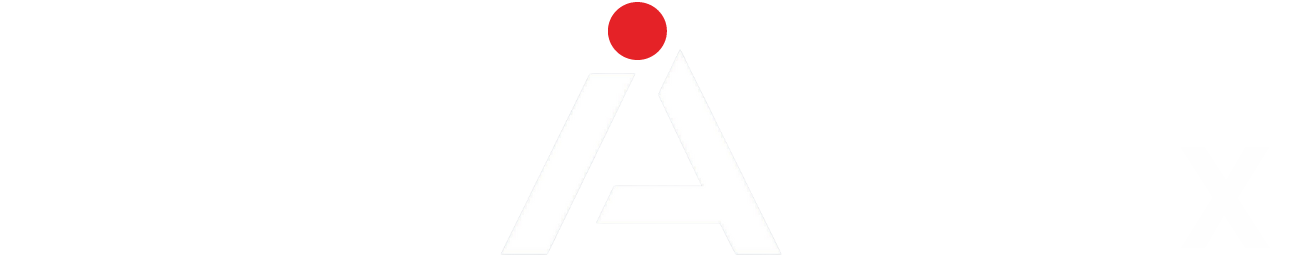Alexandre Delgado: uma vida dedicada à arte da composição musical
- Joana Marques
- 25 de jun. de 2024
- 23 min de leitura
Atualizado: 1 de jul. de 2024

Por Joana Patacas*, em 24 de junho de 2024
No panorama artístico atual, em que proliferam todos os tipos de músicas e sons, Alexandre Delgado emerge como uma figura central na composição musical e na música clássica contemporânea em Portugal.
Considerado um dos compositores portugueses mais proeminentes e criativos da atualidade, ao longo de uma notável carreira de mais de quatro décadas Alexandre Delgado tem deixado uma marca de excelência no panorama musical do país, através de um corpus de obra que se destaca pela criatividade e pela mestria técnica.
“A melodia é a rainha da música. Mas se uma melodia não fica no ouvido, se não somos capazes de a cantarolar nem de a reconhecer quando a ouvimos novamente, falta-lhe algo de essencial.” – Alexandre Delgado
Começou a aprender música aos 12 anos, quando iniciou os seus estudos de violino na Fundação Musical dos Amigos das Crianças (FMAC). No entanto, foi na composição que o seu talento desabrochou, quando de forma intuitiva começou a criar as suas próprias peças, encorajado pela professora de solfejo. Mesmo sem formação teórica em composição, as suas primeiras obras eram interpretadas pelos colegas e uma delas foi ouvida por Joly Braga Santos, de quem se tornou aluno particular de composição.
Terminado o curso geral do Conservatório Nacional como aluno externo, estudou composição em França com Jacques Charpentier e diplomou-se em 1990 com o 1º Prémio do Conservatório de Nice. A sua música foi evoluindo de um estilo inicialmente muito tonal para uma linguagem mais cromática e complexa, culminando numa escrita caracterizada pela independência de linhas melódicas e por uma combinação única entre tradição e modernidade.
“Quando digo música clássica, ou música erudita, refiro-me a uma música que transcende o básico e o banal, música bem escrita, com várias camadas de conteúdo.” – Alexandre Delgado
A ópera O Doido e a Morte, estreada no Teatro Nacional de São Carlos em 1994, projetou a sua carreira. Essa obra, baseada na farsa de Raul Brandão e inteiramente construída a partir de um pequeno motivo melódico de cinco notas, reflete o seu princípio de desenvolver organicamente cada obra a partir de uma célula primordial, prática que Joly Braga Santos herdou de Luís de Freitas Branco e que remonta a Beethoven e está nas raízes da tradição erudita ocidental.
Atualmente, Delgado está numa fase da sua carreira em que compõe o que gosta, algo que é evidente na ópera Felizmente Há Luar!, composta entre 2023 e 2024. Esta encomenda da Orquestra Filarmónica Portuguesa, feita no âmbito das celebrações do cinquentenário do 25 de abril, trouxe-o de volta à composição operática, um género que não abordava desde a ópera A Rainha Louca (2009).
Nesta entrevista à SMART, conduzida por Joana Patacas, Alexandre Delgado fala sobre as raízes da sua paixão pela música, da estética que orienta as suas composições e do impacto que espera deixar no cenário musical.
Quando é que surgiu o seu interesse pela música? Estava destinado a ser compositor?
Sempre adorei música, mas em criança tinha uma paixão ainda maior pelo teatro. Escrevia os textos, criava os cenários e os figurinos, encenava as peças e representava-as juntamente com o meu irmão mais novo e alguns primos. Mas a música também esteve sempre presente. No verão organizávamos festivais da canção em que eu compunha as canções todas. Diria que a aprendizagem da música veio por acréscimo.
Como é que iniciou a sua formação musical?
Foi graças à pianista Fátima Fraga, minha professora de música na Escola Preparatória Marquesa de Alorna, que a minha vida mudou e me tornei músico. Na altura eu tinha 12 anos e achava que já era tarde demais para estudar música a sério. Mas a Fátima Fraga chamou o meu pai e disse-lhe que era “um crime” eu não estar a aprender música. Graças a ela, fui estudar para a Fundação Musical dos Amigos das Crianças (FMAC), escola fundada nos anos 50 por Adriana de Vecchi. A minha ideia era aprender harpa: eu adorava os filmes dos irmãos Marx e fascinava-me ver o Harpo a tocar. Mas a Dona Adriana disse: “Não, é do violino que tu gostas...” Foi uma sorte, porque a harpa teria sido um instrumento solitário e complicado de transportar. Pelo contrário, o violino é muito gregário e, menos de um ano depois, já estava a tocar na orquestra com outros miúdos. Tinha 13 anos quando fiz o meu primeiro concerto em público, na Aula Magna, a tocar Purcell. Senti que o que estava ali a fazer era uma coisa importante e estimulante. Nesse momento soube que queria fazer música para o resto da vida e durante os nove anos seguintes estudei violino intensamente. Depois mudei para a viola.
E quando é que começou a compor?
Comecei a compor incentivado pela minha primeira professora de solfejo na FMAC, a Dona Deodata Henriques, uma professora fantástica. No teste inicial para avaliar a minha perceção auditiva, ela, que era muito baixinha, ia tocando as teclas, de costas para o piano, e pedindo para eu identificar cada nota. Eu acertei em todas e ela disse que eu tinha um ouvido excecional. Depois incentivou-me a criar melodias em casa, que ela pudesse usar como ditados musicais, e foi assim que comecei a escrever música. Essa prática rapidamente evoluiu. Sem nenhuma formação em composição – era tudo muito intuitivo – comecei a escrever peças para cordas que depois experimentava com os colegas. Esse processo culminou quando o meu professor de orquestra, Leonardo de Barros, propôs incluir uma delas num concerto. Essa peça, com uma melodia triste em sol menor, com um toque de Sibelius, foi tocada no Museu Gulbenkian em 1981 e o Joly Braga Santos fez uma crítica que saiu no Diário de Notícias.
Como é que Joly Braga Santos e Jacques Charpentier entraram na sua vida e de que forma influenciaram a sua formação musical?
Na crítica do Diário de Notícias, o Joly dizia que a minha peça tinha mérito, mas denotava o ensino conservador que me era ministrado; não imaginou que eu ainda não tinha estudado composição com ninguém. Foi nessa altura que, por intermédio do Leonardo, aceitou dar-me aulas particulares. Estudei com ele até 1986. Terminei o curso geral do Conservatório como aluno externo e em 1986 fui estudar para França com o Jacques Charpentier. Gostava de frisar que a Gulbenkian não me atribuiu bolsa e recomendou-me que eu frequentasse primeiro os cursos do Emmanuel Nunes; ao ler isso, jurei que jamais o faria. Fui para França graças ao Estado Português, que me deu uma bolsa através da Secretaria de Estado da Cultura. O Joly e o Charpentier foram dois grandes mestres e ambos me marcaram imenso. O Joly seguia o método do Luís de Freitas Branco, que era de começar pelo contraponto e não pela harmonia, ao contrário do que era a prática no ensino oficial. Era pouco dado a regras absolutas, preferia dar exemplos da música dos grandes compositores, recorrendo à sua enorme coleção de partituras. O Charpentier ajudou-me a expandir horizontes. Era um homem generoso, dotado de um grande sentido de humor e uma vasta cultura. Ao contrário de Emmanuel Nunes, que criava pequenos clones musicais de si próprio, o Charpentier incentivava-nos a encontrar a nossa própria voz.
Quais foram as suas influências musicais?
Posso começar por dizer qual, definitivamente, não foi: toda a escola atonal, que sempre detestei. Essa tendência, que na primeira metade do século XX era uma minoria, depois da Segunda Guerra Mundial tornou-se dominante e os compositores tonais é que passaram a ser vistos como marginais. Houve uma pressão gigantesca para que todos os compositores aderissem à atonalidade e isso durou décadas; nem Stravinsky conseguiu resistir. Hoje, a ideia de que só se podia compor música atonal parece uma aberração. Com o tempo, ficou claro que os princípios fundamentais da música são tonais, chame-se-lhes o que se quiser. Aqui em Portugal as tendências chegam tarde e demoram mais tempo a desaparecer. Quando o mundo já estava a rejeitar a vanguarda atonal, cá tínhamos defensores fervorosos em posições-chave, o que prolongou desnecessariamente essa fase. Era incrível como se gastava tanto dinheiro — milhões, no caso da Gulbenkian — a subsidiar música que a maioria dos melómanos e dos músicos considerava insuportável. Felizmente, agora estamos numa época menos fundamentalista: a criação contemporânea vai recuperando — devagarinho — um pouco do papel que já teve no passado e que perdeu por completo para o pop, o rock e as outras músicas que as secções de cultura dos jornais e das televisões hoje privilegiam. Dantes — ainda sou desse tempo — achava-se que a música “erudita” era a que merecia atenção por parte dos media; se isso deixou de acontecer, a culpa foi também, em grande parte, da vanguarda atonal europeia, que depois da guerra foi massivamente financiada, ironicamente, pelo plano Marshall. Felizmente, já passaram muitos anos e a poeira começou a assentar. Joly Braga Santos, o meu professor, que depois do 25 de abril era olhado de soslaio à conta de preconceitos estéticos e ideológicos, é hoje unanimemente considerado um dos maiores compositores portugueses de todos os tempos.
Essa resistência influenciou de alguma forma o seu estilo ou abordagem musical?
Dantes eu até tinha um pouco de vergonha de dizer que era compositor, porque as pessoas depreendiam que eu escrevia música “contemporânea”, ou seja, música experimental e horrenda. Demorei um certo tempo a libertar-me desse anátema. Até determinada altura, senti-me na obrigação de compor um tipo de música que não era bem o meu. Isso teve o lado positivo de enriquecer a minha linguagem e nisso o contacto com o Charpentier foi fundamental: ele apontava múltiplas direções, levava-nos a explorar todos os parâmetros musicais: altura, ritmo, timbre, dinâmica. Fez-me criar obras mais ricas e contrapontísticas, com mais vozes, mais timbres, mais diversidade rítmica, menos centradas na harmonia. Embora eu ainda hoje tenha uma conceção bastante harmónica da música — que já tinha mesmo antes de começar a estudar com o Joly — entendo que a maior riqueza da música é a polifonia, o contraponto, a independência das vozes. Sem isso, a música torna-se superficial, muito básica. Ou então meramente naïve, ou primitiva.
Quais são os seus estilos musicais preferidos?
Gosto dos mais variados estilos dentro da chamada música “clássica”, do século XV ao século XX. Acho a designação música “erudita” muito pomposa, prefiro chamar-lhe música “clássica”, como dizia o saudoso António Cartaxo. Quando digo música clássica, ou música erudita, refiro-me a uma música que transcende o básico e o banal, música bem escrita e com várias camadas de conteúdo. Quando a música tem apenas uma camada, facilmente se gasta e torna desinteressante. Dito isto, gosto imenso de musicais e de operetas. Gosto de boas canções de música ligeira. Gosto de Zeca Afonso e especialmente de bossa nova, que é a melhor música popular que conheço. Também gosto de canções do período de ouro da rádio e dos seus raros equivalentes atuais, como a canção da Luísa Sobral que venceu a Eurovisão. Aproveito para acrescentar aquilo de que menos gosto. A música atonal está no topo da lista, mas também não aguento ouvir música pimba, nem rock. O jazz cansa-me, assim como a música minimal, que felizmente já passou de moda. A música clássica é a única que nunca me farta. Mas não a posso ouvir em grandes quantidades: tenho o vício profissional de não conseguir ouvir música sem prestar atenção. Por isso detesto música ambiente.
É melhor compositor porque foi instrumentista?
Creio que sim. Na verdade nunca deixei de ser instrumentista, embora já não toque viola com tanta frequência desde que saí do Quarteto com Piano de Moscovo, um grupo de câmara extremamente profissional com que toquei durante quinze anos, até 2021. Foi um período muito intenso e exigente como instrumentista, que consumiu grande parte do meu tempo e da minha energia. Os instrumentos de arco requerem um nível de dedicação altíssimo. Para ter verdadeira qualidade, em termos de som, de afinação e de controlo do arco, é preciso estudar todos os dias. Dediquei-me muitos anos da minha vida à viola, agora prefiro concentrar-me mais na composição. Acabo de estar nove meses a compor uma ópera em regime de exclusividade, sete dias por semana, de manhã à noite: foi um período de uma intensidade sem precedentes. Mas é quando estou a compor que me sinto plenamente feliz.
Ainda gosta de compor na quinta da sua avó?
Adoro, é um sítio maravilhoso. Tenho lá o piano que pertenceu a Luís de Freitas Branco, que herdei do Nuno Barreiros e da Maria Helena Freitas. Mas como agora já não componho apenas no verão, a maior parte do tempo componho em Lisboa e também numa pequena casa que eu e o Salmo temos na Trafaria.
E continua a não compor ao piano, como fazia há uns anos?
Isso já ultrapassei há muito tempo; atualmente adoro compor ao piano. Há uns cinco anos passei a usar um Yamaha elétrico, ideal porque me permite compor a qualquer hora do dia. Permite também gravar e sobrepor linhas que não sou capaz de tocar em simultâneo, o que me ajuda a fazer mais e melhor contraponto. Quem me dizia para não usar o piano era o Charpentier, porque quando cheguei a França eu tinha uma conceção demasiado harmónica da música. Continuo a adorar harmonias funcionais, sensuais, expressivas, mas isso não basta, é preciso algo mais. Os conselhos do Charpentier foram muito úteis. O exemplo máximo da minha fase de compor sem o piano foi a ópera “O Doido e a Morte”, que compus em 1993. É uma obra ultra-polifónica, com linhas tão independentes que é impossível tocá-las em simultâneo num piano. Cada linha corresponde a um instrumento ou a uma voz independente, é o oposto de música para piano ou escrita ao piano. Ainda hoje acho que é das melhores coisas que fiz e espelha exatamente quem eu era naquela época. Foi um ponto culminante, mas também um ponto de viragem. Hoje sou um compositor diferente, escrevo um tipo de música diferente e com a qual me identifico ainda mais.
Como é que evoluiu a sua carreira depois de ter composto essa ópera?
O “Doido e a Morte veio na sequência do “Quarteto para Contrabaixos”, da “Antagonia” para violoncelo, do “Langará” para clarinete e do “The Panic Flirt” para flauta, quatro peças que escrevi no início dos anos 90 e que me ajudaram a encontrar a minha linguagem própria. Foi delas que brotou a ópera, tipo súmula. Depois passei algum tempo sem saber o que devia fazer a seguir, por causa da expetativa criada pelo êxito da ópera, que também foi levada à cena na Alemanha e duas vezes no Brasil, já teve 12 produções desde 1994. Fui descobrindo o caminho com obras como o Concerto para Viola e Orquestra, o “Poema de Deus e do Diabo” e sobretudo “A Rainha Louca”, que me levou quatro anos a compor e é segunda ópera da uma projetada “Trilogia da Loucura”. Nessa ópera recuei ao século XVIII, uma época que adoro. Foi salutar para mim, ajudou-me a aproximar do tipo de música que sempre quis fazer.
Tem alguma obra favorita?
Se tiver de escolher uma entre todas as minhas obras, diria que é a cantata “O Pequeno Abeto”. Escrevi-a em 2016 para os alunos da Academia Musical dos Amigos das Crianças, a antiga FMAC. Era então professor da orquestra e dirigi a estreia no Tivoli, com duzentas crianças em palco. É baseada no conto de Andersen, um conto que me faz chorar sempre que o leio. Conta a história do pequeno abeto que vive na impaciência de ter um futuro radioso, não aprecia a floresta e só pensa em crescer, até que um dia é cortado, levado para a cidade e enfeitado como árvore de Natal. Depois é guardado no sótão, onde os ratinhos dão pulos de alegria ao ouvir as suas histórias. Na primavera, arrastam-no para o jardim e ele julga que vai, finalmente, ser feliz. É então que percebe que os seus ramos estão secos e amarelos. É queimado numa fogueira e cada estalido da madeira corresponde a uma das suas recordações. É uma metáfora da vida, da nossa tendência para não dar valor àquilo que temos, para estarmos sempre a recordar o passado ou a ansiar pelo futuro, sem aproveitar o presente. Os versos finais resumem aquilo que para mim é a função da arte: “O aberto despediu-se / sem gozar o presente / mas com o seu conto / ele vive p’ra sempre.”
E do que é que mais gosta em música?
Gosto de música que me emocione e arrebate. O primeiro filme que vi na vida foi a “Música no Coração”, tinha eu quatro anos e fiquei em êxtase. Já não sei quantas vezes o revi, é um filme que ainda hoje me faz chorar e rir, conheço todas as canções e falas de cor. Igualmente marcante foi o bailado “Quebra-Nozes”, que vi no Auditório da Gulbenkian acabado de inaugurar. Foi o primeiro espetáculo a que assisti ao vivo e é uma música que me arrepia dos pés à cabeça, uma das coisas que mais adoro no mundo, com uma orquestração absolutamente genial.
A cantata “O Pequeno Abeto” mostra que tem uma ligação muito forte ao universo infantil.
Quando comecei a compor peças para crianças descobri uma parte de mim que estava meio adormecida. Escrever para orquestras e coros infantis obrigou-me a simplificar a linguagem musical, a torná-la acessível a alunos de diferentes níveis, desde os que mal tocam até aos mais avançados. O curioso é que esse tipo de abordagem musical ajudou-me a encontrar o tipo de música que eu realmente queria escrever. “Less is more” e “keep it simple” são duas das minhas máximas preferidas. É ainda uma reação contra a hecatombe de complexidade e fundamentalismo que se abateu sobre a música erudita ocidental depois da Segunda Guerra Mundial. Porque continuo a achar que a música não precisa de ser complicada nem feia para ser interessante.
Quais são os aspetos a que dá mais importância no seu processo criativo?
Para mim, a melodia é a rainha da música. Mas se uma melodia não fica minimamente no ouvido, se não somos capazes de a cantarolar nem de a reconhecer quando a ouvimos novamente, falta-lhe algo de essencial. Não é fácil de encontrar, sobretudo sem cair na banalidade. Outra coisa que me fascina é poder sobrepor melodias que combinam bem umas com as outras. Para mim a música também precisa de ter algum tipo de narrativa. Assim como detesto filmes sem história ou peças sem enredo, não tenho paciência para música atemática, sem motivos que possamos fixar. A música tem que contar uma história, tem que ter personagens, motivos ou temas que sejamos capazes de memorizar, para depois perceber e apreciar o que lhes acontece. Quando não há temas, não me prende a atenção. É como um filme ou um romance sem protagonistas, sem personagens com que nos identifiquemos. Aquilo que mais adoro é transformar e sobrepôr temas, fazê-los convergir ou degladiar-se, combiná-los entre si, sobrepô-los em camadas. Bach, Mozart, Beethoven foram mestres na matéria. O final da Sinfonia Júpiter de Mozart é o caso paradigmático, com aquela fuga que junta todos os temas numa conjugação celestial. É como se o universo inteiro cantasse, um momento de pura genialidade.
Fale-nos de como foi a experiência de compor a ópera “Felizmente Há Luar!”, que vai estrear a 8 de maio no Teatro São Luiz.
É um projeto a que me dediquei de alma e coração. Adoro cada um dos personagens e há um pouco de mim em cada um deles, inclusive nos vilões. Durante nove meses estive tão completamente imerso nesse universo que foi como se tivesse estado a viver numa realidade paralela. Levei quatro anos para compor “A Rainha Louca”, que é uma ópera de câmara e dura uma hora. Desta vez levei sete meses a compor e dois meses a orquestrar uma ópera que dura uma hora e meia, com coro, oito solistas e orquestra. Já nem sei como é que fui capaz.
Esta ópera baseia-se na obra homónima de Luís Sttau Monteiro e foi encomendada pela Orquestra Filarmónica Portuguesa, no âmbito das celebrações do cinquentenário do 25 de Abril. Inspirou-se no legado do seu avô Humberto Delgado, o “General sem Medo”, para a compor?
Esse legado é uma grande responsabilidade. O Joaquim Benite sugeriu-me em tempos que eu compusesse uma ópera sobre o meu avô; eu disse-lhe que não conseguia, por ser um assunto demasiado pessoal. Quando o Osvaldo Ferreira me lançou o desafio de compor uma ópera sobre o 25 de Abril, no início também fiquei de pé atrás, porque achava o tema pouco operático e não queria compor para uma comemoração oficial. Mas depois lembrei-me do “Felizmente Há Luar!” e achei que fazia todo o sentido, porque é uma metáfora do Portugal salazarista, pós-eleições de 1958. Como opositor do Estado Novo, o meu avô tocou profundamente o coração de milhões de pessoas. O seu impacto foi tão meteórico e intenso que ainda hoje há pessoas que se emocionam ao saber que sou seu neto, que me agarram nas mãos e ficam com lágrimas nos olhos. Não conheci o meu avô, porque ele foi assassinado em fevereiro de 1965 e eu nasci em junho desse ano. A minha mãe estava no auge da gravidez quando recebeu a notícia. Creio que esse evento ficou gravado na minha psique mais profunda.
A música que compôs também conta parte desta sua história?
A peça de Sttau Monteiro está repleta de alusões ao Portugal do Estado Novo. Embora os acontecimentos descritos ocorram no princípio do século XIX, é evidente que está a aludir à ditadura de Salazar. Gomes Freire foi um homem extraordinário, é um herói da liberdade que merecia ser mais conhecido. A forma como foi preso, condenado e enforcado é uma mancha na história de Portugal, semelhante ao assassinato do meu avô. São acontecimentos comparáveis, separados por um século e meio. De resto, as figuras de Gomes Freire e do meu avô têm muito em comum. A maneira como Gomes Freire é descrito na peça é muito semelhante às descrições habituais do meu avô. Ambos eram frontais e destemidos, impulsivos, temerários, exemplares como soldados e adorados pelo povo.
Inspirou-se no universo da música de intervenção?
Sempre gostei de fazer alusões e citações nas minhas obras. Neste caso fiz várias citações de músicas que ficaram associadas ao 25 de abril. Na ária de Vicente, o informador da polícia, cito a “Tourada” que o Fernando Tordo cantou na Eurovisão e cujo poema subversivo escapou à censura. Na ária do António Falcão, cito a secção no modo menor do “E Depois do Adeus”, essa canção lindíssima cantada pelo Paulo de Carvalho, que serviu de primeira senha à revolução. E depois há as canções do Zeca Afonso, que fizeram parte da banda sonora da minha infância, porque o meu irmão Álvaro, três anos mais velho que eu, as estava sempre a cantar e a tocar na guitarra. Aquela de que eu mais gostava era o “Vejam Bem”, que inseri no quarteto final do 1º ato e no coro final da ópera. Além disso, e quase sem me dar conta, usei harmonias modais à maneira do Zeca Afonso nas canções do coro no 1º ato. Há ainda o “Acordai”, a mais conhecida das canções heróicas de Fernando Lopes-Graça, que surge no Dueto de António e Matilde, e depois na ária dele. Sobre essa canção tenho uma história. Quando eu era miúdo e ainda não sabia nada de música, os meus avós paternos ofereceram-me um pequeno órgão elétrico. Deve ter sido em 1972 ou 73, eu andava no colégio “A Seara” e tinha lá um professor de música que nos ensinava canções heróicas do Lopes-Graça, proibidas na época. Uma dessas canções era o “Acordai”, que eu adorava. Lembro-me de passar horas a tocá-la no meu pequeno órgão elétrico.
Outra citação de que gosto especialmente é da Serrana do Alfredo Keil, ópera que adoro e conheço de cor. Quando Matilde diz a Beresford que é natural de Seia, os quatro acordes em coral são os mesmos do tema da Zabel no início da Serrana; usei-os como Leitmotiv de Matilde. Devo dizer que, embora eu não seja nada wagneriano, aprecio ao máximo a técnica do Leitmotiv que ele criou.
Em relação ao trio dos governadores, fiz outro tipo de citações. Usei a Sarabanda em ré menor de Handel, uma música que acredito estar na origem da melodia do God save the King (as semelhanças são evidentes, embora nunca tenha visto isso escrito em lado nenhum). Depois do filme "Barry Lyndon" de Kubrick tornou-se uma espécie de símbolo musical da Inglaterra e por isso usei-a na ária de Beresford, quando ele fala da sua terra natal. Nos momentos em que o Principal Sousa faz utilizações especialmente farisaicas da religião, surge a melodia de Nossa Senhora de Fátima, no glockenspiel. E dei um toque de fado à ária do D. Miguel Forjaz, “Sonho com um Portugal”. Dos três FF só me faltou o futebol, porque não vinha a propósito.
Considera que a música deve ser feita e pensada para determinado instrumento, porque cada um deles tem a sua própria personalidade. Também fez isso com as vozes na ópera “Felizmente Há Luar”?
Sim, todos os papéis foram feitos a pensar nos cantores que os vão interpretar. Quando ouvi a Sílvia Sequeira num vídeo, percebi que era para ela que eu queria compor. Escrevi cada ária para o seu tipo de soprano dramático, pensando na mulher extraordinária que é a Matilde de Melo. A Raquel Mendes, que foi uma das dezenas de sopranos que fizeram casting para a ópera, tem o tipo de voz doce e firme que eu tinha imaginado para o Mulher do Povo; gostei tanto dela que aumentei o papel e escrevi para ela uma das minhas árias preferidas. O Pedro Cruz foi o único tenor que teve coragem de cantar a ária de Pedrillo que escolhi para o casting, porque eu queria aquele tipo de tenor cómico, com bons agudos; ele excedeu as expetativas e por isso também lhe dei mais protagonismo, mostrando na sua ária (que é outra das minhas preferidas) que até um delator pode ter um lado humano. Depois há o Tiago Amado Gomes, que conheci a fazer exemplarmente o Figaro de Rossini: escrevi para ele o papel do vilão máximo, o D. Miguel Forjaz, e costurei-o à medida, tipo alfaiate. Também escrevi o papel de Beresford a pensar na voz e no excelente ator que é o André Henriques. A cereja no bolo foi ter o Carlos Guilherme como Principal Sousa, porque o Carlos estreou o Governador do meu “Doido e a Morte” no São Carlos em 1994: é o cantor com quem mais vezes colaborei profissionalmente nestes trinta anos, um ator exímio que conserva a voz incrivelmente em forma e veio encarnar de forma hilariante esse avatar do Cardeal Cerejeira. Ele e o Tiago fazem uma parelha perfeita e foi fantástico assistir à cumplicidade que se gerou no elenco. Para isso contribuiu o trabalho do Allex Aguilera, que fez uma direção de atores perfeita. Nos dias de hoje é raro encontrar um encenador de ópera que saiba encenar em função da música e do libreto, em vez de sobrepôr o seu ego desmesurado. Vivemos há décadas numa tirania dos encenadores que se permitem ignorar a música e a didascália, por acharem que as suas próprias ideias são sempre melhores que as do compositor e do libretista. Esse “umbiguismo” tem sido catastrófico para o mundo da ópera: confesso que atualmente é raro eu ir assistir a uma ópera, já estou traumatizado. Só vou depois de confirmar que a encenação não é execrável. Graças ao André Cunha Leal, que foi quem recomendou o Allex Aguilera, esta é a primeira vez que trabalho com um encenador que sabe música, sabe o que é ópera e guia-se pelo que está na partitura. A música é a base de qualquer ópera digna desse nome, é ela que define os tempos, os ambientes e as intenções do texto. No contexto atual, em que a iconoclastia se tornou a norma, cada encenador acha que tem que reinventar tudo de raiz, para escandalizar ainda mais, como se isso ainda fosse possível. Tornou-se uma nova forma de academismo. Eu suspiro por uma era em que se regresse exatamente ao que está nos libretos. Porque os Da Ponte, os Piave, os Hoffmansthal, sabiam o que faziam. Aquilo que o Allex Aguilera está a fazer não é conservador: é revolucionário. E felizmente ele está a fazer uma grande carreira.
Qual é a essência desta ópera?
Costumo dizer, meio a brincar, que a minha ópera é um cruzamento entre Verdi, Zeca Afonso e Kurt Weill. Reune os dois ingredientes que mais me estimulam musicalmente: o cómico e o trágico. O primeiro ato é mais satírico, o segundo é mais intimista e sério. Apesar do final trágico, o texto de Sttau Monteiro termina com uma mensagem de esperança, no fundo prenunciando o 25 de abril. Esse final condiz comigo: sou otimista por natureza, procuro ver o lado positivo das coisas e contribuir para melhorá-las. Destruir é facílimo, o que é difícil é construir. Perante o regresso da bárbarie a que estamos a assistir a nível internacional, o mundo precisa mais que nunca de se regenerar através da arte. A ópera serve como contraponto à realidade, deve trazer-nos uma beleza catártica, capaz de compensar e ajudar a combater a fealdade e a proliferação dos instintos mais primitivos do ser humano.
Esta ópera é adaptável a diferentes formatos de apresentação?
Fiz uma versão para piano bastante pianística, para permitir que a ópera se faça só com piano. É claro que a orquestra enriquece imenso, acrescentando linhas, temas, texturas e timbres. Mas quis que a ópera existisse nos dois formatos, para ser adaptável aos recursos e aos espaços disponíveis, de pequenas salas locais até grandes salas de ópera. Montar uma produção operática com orquestra é muito dispendioso. Estou gratíssimo ao Osvaldo Ferreira e à Orquestra Filarmónica Portuguesa pelo esforço de levarem a cabo uma produção destas e o resultado da orquestra tem sido incrível. Mas as óperas também podem ser acompanhadas ao piano, é corrente no estrangeiro e devia ser corrente em Portugal. As produções de bolso devem coexistir com as grandes produções, para tornar a ópera um bem muito mais acessível. A ópera não deve ser vista como um luxo destinado à elite, mas sim como um grande espetáculo popular. Em todos os teatros se deviam fazer óperas de câmara ou óperas acompanhados ao piano, é uma maneira de democratizar a ópera e de dar trabalho aos cantores, sobretudo num país remediado como o nosso e onde há, atualmente, tanta gente a cantar bem.
Em ópera é necessário que exista uma conjugação entre a música e o texto. Como é que se faz um bom libreto?
Um bom libreto tem de ser conciso para dar espaço à música. A grande diferença da ópera em relação ao teatro é que, com pouco texto, gera-se muita música. Numa ópera não é possível utilizar todo o texto de uma peça de teatro, pois isso torná-la-ia insustentavelmente longa e arrastada; a Salomé de Strauss é a exceção que confirma a regra. É impossível cantar à velocidade com que falamos e nem tudo se presta a ser posto em música. Por isso as falas têm de ser enxutas ao máximo, dizer muito com poucas palavras, evitando repetições e reverberações desnecessárias. É preciso eliminar tudo o que não é essencial, remover as redundâncias. No caso de “Felizmente Há Luar”, reduzi o texto a um quinto ou um sexto do original, cortei personagens e concentrei-me no essencial da trama. Creio ter conseguido um contraponto interessante ao criar um quarteto “mau” e um quarteto “bom”; gosto muito dessa ideia dos dois quartetos antagónicos, que terminam respetivamente o 1º e o 2º ato. Além disso, há a grande figura coletiva do povo, representada pelo coro, que tem uma importância fulcral e para a qual tive que acrescentar muito texto, partindo de algumas falas do original. Em termos de forma e de linguagem musical, quis afastar-me do que costuma ser a ópera contemporânea e aproximar-me mais dos musicais, que no fundo vieram a desempenhar um pouco do papel que no século XIX cabia às óperas. O Allex Aguilera percebeu isso: os minutos finais são ao estilo de um musical e ele fez uma pequena coreografia tipo Broadway, o que achei o máximo. Outro aspeto que se aproxima dos musicais é o facto de esta ópera não ser integralmente cantada: tem vários diálogos, curtos mas importantes. Habitualmente o que define uma ópera é o facto de ser toda cantada, mas certas partes do libreto prestavam-se mal a isso, além de que é bom haver momentos para respirar entre os números cantados. Em vez de usar recitativos secos — única coisa que detesto na ópera tradicional — optei por fazer diálogos acompanhados, tipo melodrama.
E como é que abordou essas partes faladas?
São diálogos com trocas de palavras importantes, que precisavam de ser ditas de forma mais rápida e com música à medida. Adoro o conceito de melodrama, declamação acompanhada. Eu já tinha feito duas grandes experiências nessa área: o “Romance da Raposa” de Aquilino Ribeiro para o Teatro de Almada, uma adaptação teatral de 45 minutos integralmente acompanhada ao piano, como se fosse a banda sonora de um filme mudo; e o “Rei Lear” de Shakespeare que compus para os Dias da Música do CCB, reduzindo a peça a uma hora, integralmente acompanhada por um grupo de câmara, minuto a minuto, tema a tema, para encaixar com o texto. Nesta ópera, escrevi a música dos diálogos depois de compor todas as árias, conjuntos e coros. Foi fácil, porque já tinha todos os temas definidos e bastou-me usá-los e combiná-los, evitando que a música chamasse demasiado a atenção sobre si própria. São pequenos melodramas inseridos na trama.
E quanto à escrita do libreto, quais foram as suas escolhas estilísticas?
Optei por escrever tudo em verso rimado, que é outra coisa que aprecio nos musicais e infelizmente passou de moda no mundo da ópera. Só gosto de poesia com rima e com métrica. Sem uma coisa e outra, os poemas, por mais belos que sejam, parecem-me prosa. Gosto da poesia ultra-métrica, ultra-rimada, onde cada acento encaixa na perfeição. Gosto especialmente quando há muitas assonâncias e rimas internas, adoro esse tipo de musicalidade na poesia. Por isso, fiz o libreto todo em verso, maioritariamente septissílabos, sempre que possível rimados. Já tenho experiência a fazer libretos e traduções rimadas de óperas e de poemas. Adoro esse trabalho de tradução. Se por alguma razão eu deixasse de compor, talvez passasse a dedicar-me a traduzir poesia e libretos de óperas.
O que é que o público pode esperar da ópera “Felizmente Há Luar!”?
Espero que as pessoas gostem do espetáculo e fiquem com a música no ouvido, como está a acontecer com o coro ensaiado pela Filipa Palhares, a quem estou gratíssimo. Adoro quando as pessoas saem da sala a cantarolar. Não sou daqueles artistas que criam apenas para serem compreendidos daí a cem anos: quero que o público compreenda a ópera e a aprecie agora. Mas também gostava que fosse apreciada daqui a muito tempo. Outra coisa que desejo é que as pessoas riam nos momentos cómicos, que não tenham pejo em rir, ou mesmo em aplaudir no fim das árias e conjuntos, se lhes apetecer. Em Portugal o público fica sempre muito sério nas óperas, como se fosse uma missa. Adoro que haja risos ou aplausos no meio dos espetáculos, permitem descontrair e sentir o pulso do público. É preferível ter palmas fora de tempo do que ter pessoas a mandar calar. Para mim isso é verdadeiramente horrível: mandar calar quem está a aplaudir por entusiasmo. Devia ser proibido. Se uma pessoa aplaude é porque gosta, é um sinal de apreço. O principal objetivo de ir a um espetáculo é esse — apreciar e desfrutar. Senão, mais vale ficar em casa. Ninguém paga um bilhete para ser mortificado.
Deseja ser lembrado pelas suas criações?
Creio que qualquer artista o deseja. Há algo de indestrutível na alma humana, que perdura no tempo através das suas criações; a arte é uma das cápsulas do tempo mais poderosas da humanidade. Os grandes compositores, como Beethoven, Schubert, Tchaikovski, continuam bem vivos entre nós. Quando pensamos neles, é difícil imaginar algo mais vibrante e presente do que a sua música. É como se os conhecessemos pessoalmente através dela. O mesmo acontece com os grandes escritores, dramaturgos, pintores, cineastas — as suas criações fazem com que eles permaneçam vivos através dos tempos. Por isso, modestamente, é isso que ambiciono: que as minhas obras possam emocionar as pessoas, não apenas agora, mas daqui a muitos anos.
* Joana Patacas - Assessoria de Comunicação e de Conteúdos
Quer saber mais? Veja e ouça abaixo uma das suas entrevistas:
Explore a página de Artista SMART: Alexandre Delgado
Acompanhe as nossas notícias para se manter informado sobre as últimas novidades dos Artistas SMART.